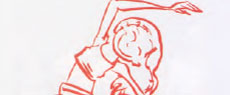Postado em
O Ofício do Tradutor
Ilustrações: Marcos Garuti
A boa tradução configura-se como obra aberta. Exigirá do receptor sua constante resignificação. A atividade no Brasil torna-se um ato heroico no campo da literatura, primeiro, pelas particularidades da língua estrangeira e da de chegada; segundo, pela necessidade de assegurar que existam leitores para tais obras. Por muitos considerada “atividade impossível”, permite a entrada em universos poéticos que de outro modo permaneceriam desconhecidos do grande público. Em artigos inéditos, os tradutores Paulo Schiller e Nelson Ascher discutem a questão.
Alteridade e resistência
por Paulo Schiller
Embora seja um país pequeno, a Hungria conta com uma tradição literária invejável. Incontáveis poetas e prosadores se sucederam na criação de textos que se equiparam às obras dos grandes nomes de países com uma penetração cultural maior, por conta de um grande território, do vínculo com antigas colônias, de uma língua mais difundida ou que tenha um parentesco com outras de mesma raiz.
Além disso, os herdeiros contemporâneos dos autores húngaros do passado preservam a herança recebida por meio de uma produção primorosa. O húngaro sempre escreveu na assim chamada “solidão da língua”, isolado dos vizinhos, uma vez que a língua, nascida no norte remoto e inacessível da Sibéria, embora compartilhe uma estrutura comum com o finlandês e o estoniano, não tem nenhuma semelhança com qualquer outro idioma.
Assim, os escritores húngaros sempre tiveram de contar com um número restrito de tradutores e alguns editores ousados para que se tornassem conhecidos fora das fronteiras pouco extensas que delimitam essa língua incomum, preservada pela obstinação de seus falantes, a despeito dos vizinhos poderosos e dos invasores que, ao longo de séculos, ocuparam o território magyar.
Tive a felicidade de traduzir autores que representam o que existe de melhor na literatura húngara. Entre os clássicos se destacam Sándor Márai e Gyula Krúdy. Márai, com mais de 60 livros publicados, amplamente traduzidos somente a partir da queda do Muro de Berlim, conta hoje com um número surpreendente de leitores em dezenas de países. Nascido em 1900, Márai, em seus quase 90 anos de vida, testemunhou as grandes transformações do século 20 e foi um símbolo da resistência às ditaduras que oprimiram a Europa Central.
Três eixos principais permeiam a sua obra: o enigma do desejo feminino, a inevitabilidade do destino, fruto da herança imposta pelos atos das gerações passadas, e a constatação de que todos nós carregamos um segredo que jamais revelamos a ninguém, mas que é a nossa única verdade. Vale lembrar que Márai escreveu Veredicto em Canudos, um romance inspirado na leitura de Os Sertões, de Euclides da Cunha.
A edição desse livro em 2002 foi um dos grandes acontecimentos literários do ano do centenário da publicação de Os Sertões. Gyula Krúdy, que Márai considerava seu mestre, tido como o Proust húngaro, escreveu milhares de contos, romances e ensaios que falam de um passado perdido em que os homens cumpriam a palavra e as mulheres valorizavam a dignidade e a honra.
Entre os contemporâneos, cabe mencionar György Dragomán, uma das promessas da nova literatura húngara, que viveu e escreveu sobre a infância sob o regime autoritário de Ceaucescu na Romênia; Imre Kertész, cronista do Holocausto, prêmio Nobel de 2002; e Péter Esterházy, certamente o mais respeitado entre os escritores em atividade, convidado para a próxima Feira Literária de Paraty.
Imaginemos uma língua em que não existe o verbo haver, não há preposições, o passado conta com um único tempo verbal, o futuro nem sempre é determinado pela conjugação do verbo, mas por um advérbio, as palavras podem ser aglutinadas ou flexionadas com extrema liberdade, e o número de partículas a serem acrescentadas ao começo ou ao final de substantivos, adjetivos e advérbios, modificando-os decisivamente, é interminável: estas são algumas das características do húngaro.
Se em português temos uma variedade maior de pretéritos, as preposições não faltam e a conjugação do futuro é muito clara, para a descrição detalhada de uma cena a nossa língua parece pobre se comparada com a precisão que o húngaro exige quanto a sentimentos, gestos, atitudes, descrições de lugares, sons ou cores. Além disso, as perdas inerentes a qualquer tradução são ampliadas pela existência de palavras que não têm nenhum equivalente em português. Certos impasses se resolvem por meio de soluções parciais, em que deve prevalecer o respeito pela intenção do autor.
Tenho uma relação pessoal com os autores contemporâneos que sempre me ajudaram diante de situações em que os dicionários e especialistas se mostraram insuficientes. György Dragomán tem um site especialmente dedicado a seus tradutores, com um elenco de dúvidas comuns a todos eles.
Esterházy tem arquivadas listas de perguntas enviadas por tradutores de diferentes línguas que ele compartilha com a finalidade de auxiliar os que se aventuram a verter seus textos, em que os jogos de palavras constituem um elemento fundamental. Em traduções para outras línguas alguns trechos, em que o original húngaro representa um grande desafio, não raro desaparecem.
Quando releio uma tradução minha publicada, independentemente da data da edição, meu sentimento é sempre de estranheza. É como se o texto não tivesse sido escrito por mim. A reação seguinte é de perplexidade: não consigo recuperar o momento em que as frases foram construídas, não entendo como pude articulá-las. Essa constatação evidencia que grande parte do processo de tradução é inconsciente.
O ato de traduzir, no instante em que ele acontece, é um momento de apagamento subjetivo, de identificação, de cumplicidade com o original. O tradutor, em sua leitura lenta, interrompida a cada frase, vive uma intimidade extrema com o fluxo de ideias, as hesitações e a própria respiração do autor. A tradução, tida como a arte do impossível, deve transpor não apenas a barreira natural imposta pela falta de equivalência literal entre as línguas, mas também interpretar um modo particular de ver o mundo, determinado pela língua do original e a cultura que ela produziu. O que importa é a transmissão do clima, do estado de espírito, do que está implícito nas entrelinhas do texto.
Como diz J.B. Pontalis: “O tradutor deve ser dotado de uma capacidade infinita de ser triste – não tem o direito de brincar com suas palavras, e não tem o poder de restituir as palavras do outro. Sorte injusta: quanto mais profunda é sua intimidade com a língua estrangeira, mas ele se detém nela, e menos tem os meios de transpor a fronteira... na melhor hipótese, o tradutor não tem escolha a não ser a de errar de compromisso em compromisso, de quase em quase, não pode engendrar mais que nostalgia, melancolia, luto insolúvel e insuperável...”.
Tomando certas referências da psicanálise, se o ato de traduzir comporta uma vertente inconsciente, o tradutor enfrenta uma resistência do lado da língua de chegada, a resistência em dar lugar ao estrangeiro (estranho). Por outro lado, o tradutor se depara também com a resistência da língua de origem, a partir do pressuposto de que a versão sempre comporta perdas.
Recorrendo ainda ao modelo psicanalítico, podemos dizer que as falhas na tradução são também da natureza da resistência ou do recalque, desta feita do lado do tradutor. Ele pode escutar algo diferente daquilo que existe para ser traduzido. Diferente, porém presente de certa forma no texto. E talvez o tradutor ignore quais são os significantes que lhe são próprios, introduzindo assim a questão do afeto que o tradutor dedica ao texto, decisivo para a qualidade final da tradução.
A tradução exige a reconstrução na língua de chegada da música do original ou de uma música original que crie no leitor efeitos semelhantes ao que o texto produz nos leitores da língua de origem. A leitura em português deve ser confortável, embora seja importante a preservação de palavras, construções ou expressões que denunciem a origem estrangeira. Por fim, o fundamental é a reprodução do tom do original, no sentido do tom em que uma obra musical é composta.
Augusto de Campos – percurso poético
por Nelson Ascher
A tradução de poesia nunca foi considerada atividade de primeira em português. Aplicava-se a ela um dogma tão vigoroso quanto pouco discutido: traduzi-la é impossível. Que os melhores poetas ocidentais, de Catulo a, pelo menos, Ezra Pound, passando por Dante e Petrarca, Camões e San Luiz de León, Ben Johnson, Dryden e Alexander Pope, Goethe e Hölderlin, Púchkin e Shelley, Rilke, Brecht e Paul Celan, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e Jorge Guillén etc., discordassem enfaticamente disso não é, ao contrário do que parece, argumento de autoridade, mas sim dedução empírica derivada do trabalho idem.
Assim, embora os preconceitos que, em nosso meio linguístico, sempre acompanharam a tradução poética, eles decerto contribuíram para relaxar as expectativas e, consequentemente, a prática. ?Nem há como saber se, em última instância, foi o preconceito de base que, ao longo de nossa história literária, gerou poucas traduções poéticas, geralmente fracas, ou vive-versa.
Uma coisa, no entanto, é certa: nada disso tem nada a ver com as peculiaridades de nossa boa e velha (como a chamou Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac) “última flor do Lácio”, o português. Pois nele, como em qualquer outra língua, vale uma máxima com cujas demonstrações o tempo poderia organizar uma biblioteca superlativa, a saber: Não há poemas intraduzíveis, só tradutores incompetentes.
No que diz respeito à tradução de poesia, o melhor é pegar seus resultados mais bem-sucedidos e esfregá-los na cara dos céticos. E, caso precisemos nos restringir à nossa pobre língua (que, de pobre em poesia, não tem nada), não há nenhum conjunto de poesias traduzidas que, em termos quantitativos e qualitativos, superem e pouquíssimos (além do de Haroldo de Campos) que rivalizem com aquele elaborado no correr de mais de meio século por Augusto de Campos (que acaba de fazer 80 anos).
Trata-se de um alentado conjunto de textos ao qual nem o mais irredutível dos céticos em relação à tradutibilidade de poemas em geral negará – desde que conheça e aprecie a arte da palavra – o estatuto de, no mínimo, grande poesia vernácula.
Augusto começou a traduzir, ainda adolescente, nos fins dos anos 40. Como tal atividade seguia, então, relegada ao descaso aqui, pode-se dizer que as decisões relativas ao que traduzir, como fazê-lo e, sobretudo, a própria decisão de traduzir, transformando isto em algo central, foram, elas mesmas, o ato tradutório original. Pois, logo de início, o poeta e seu grupo (que seria mais tarde conhecido como concretista) adotaram dois pontos de referência, um nacional, outro estrangeiro: por um lado, a primeira geração modernista brasileira e Oswald de Andrade e, por outro, o alto modernismo anglo-americano, especialmente sua tendência representada por Ezra Pound.
Tratava-se, por incrível que pareça, da última época na qual jovens brasileiros letrados ainda liam sistematicamente, não só a prosa de ficção, mas também a poesia estrangeira contemporânea. Pound não era, então, a referência mais óbvia, uma vez que as letras nacionais seguiam próximas às letras da França e, até em inglês. T.S. Eliot era, como poeta e crítico, um modelo mais conhecido e atraente.
Provavelmente o que os atraiu em Pound foi que, além de sua própria obra vigorosa, ele oferecia didaticamente uma maneira, quase um método, seja de explorar e (re)organizar a cultura de todo e qualquer lugar e tempo, seja de criar algo radicalmente novo, o que ele fez de modo indissoluvelmente articulado em seus poemas, ensaios e traduções.
Não é à toa, assim, que um dos primeiros projetos coletivos do grupo (incorporando o talentoso e precocemente desaparecido poeta e crítico Mário Faustino) foi a versão de uma seleta dos “Cantares” poundianos (seções de seu longo poema narrativo), seguida por uma amostra mais ampla do mestre americano. Mas, já antes dessas publicações (ambas dos anos 60), Augusto vinha trabalhando com poetas e poemas que Pound o ensinara a apreciar, entre eles, os metafísicos ingleses do século XVII (John Donne, Andrew Marvell), a vertente “coloquial-irônica” do simbolismo francês (Jules Faforgue, Tristan Corbière) e, “last but not least”, a mais durável paixão de ambos: os trovadores provençais dos século XII/XIII.
Foi, aliás, traduzindo outro americano, e.e. cummings, contemporâneo e amigo, mas poeta bem diferente de Pound, que Augusto, por assim dizer, descobriu e refinou muitos dos recursos mais característicos de sua própria poesia, entre estes os tipográficos, que se tornaram sua marca registrada.
Aos poucos, porém, o gosto de Augusto foi se diversificando e seus interesses se ampliaram, incorporando poetas jamais mencionados pelo mestre, bem como outros, que não o atraíam ou, que se conhecesse, talvez tivesse execrado. Em colaboração com seu irmão Haroldo e com Bóris Schnaiderman (tradutor pioneiro no Brasil de Dostoiévski, Tolstói, Tchékhov e outros), o poeta paulista traduziu Maiakóvski em meados dos anos 1960 e, logo depois, a “Antologia da Poesia Russa Moderna” – o melhor exemplo que existe na língua de como se incorporar a ela toda uma tradição diferente e estranha.
O projeto coletivo seguinte, Mallarmé, revelou mais uma de suas paixões duradouras, e Augusto continua publicando novas versões do difícil poeta francês. Ainda assim, foi só no final dos anos 1970 que ele reuniria a maioria das traduções não pertencentes a algum projeto coletivo num volume individual: “Verso Reverso Controverso”.
Os anos de 1980 o viram multiplicar traduções dos poetas já mencionados, em especial dos provençais, e lhes acrescentar dois nomes tardo-simbolistas, o irlandês W.B. Yeats e o francês Paul Valéry, enquanto, nos anos de 1990, entre novas versões destes todos e de outros, o grande – e inesperado – nome que surgiu em seu repertório foi Rainer Maria Rilke, simbolista tardio de expressão alemã nascido em Praga.
A mais recente de suas novidades é o expressionista alemão August Stramm, e a antologia que Augusto fez de sua poesia complexa e microscopicamente elaborada supera as existentes em qualquer outra língua.
Mais, portanto, do que prova extensa e irrefutável, não só de habilidades e perícias individuais, mas de que se pode traduzir poesia e de que, pelo bem da língua e da cultura, convém fazê-lo cada vez mais, a obra tradutória de Augusto de Campos, ela mesma um repertório valioso do que há de bom em diversas tradições poéticas estrangeiras, contém em si, na sua prática apaixonada e rigorosa, quase tudo o que quem se interesse pelo ofício precisa saber, nem que seja para ler melhor qualquer poesia, inclusive, é claro, a do próprio tradutor.
“Pois nele [português], como em qualquer outra língua, vale uma máxima com cujas demonstrações o tempo poderia organizar uma biblioteca superlativa, a saber: Não há poemas intraduzíveis, só tradutores incompetentes”