Stevens Rehen
Postado em 30/01/2018
Neurocientista brasileiro especializado em pesquisas com células-tronco, Stevens Rehen questiona e derruba preconceitos ao investigar uma das substâncias presentes na ayahuasca e suas possíveis aplicações como antidepressivo. Essa pesquisa foi publicada no final de 2017 pela revista científica britânica Scientific Reports e é a primeira a revelar as alterações que drogas psicodélicas causam no funcionamento molecular do tecido neural humano. Diretor de pesquisa do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o pesquisador destaca a necessidade de políticas públicas e de investimentos em ciência, área que ainda sofre por entraves burocráticos e pelo que ele denomina de “analfabetismo científico”. “É muito difícil sensibilizar a população sobre a importância da ciência quando existem questões muito mais básicas de compreensão. Para mudar isso, só há uma solução: ênfase na educação.” Nesta entrevista, Rehen fala sobre a atual produção da comunidade científica brasileira, o “renascimento psicodélico” e o prolongamento da vida.
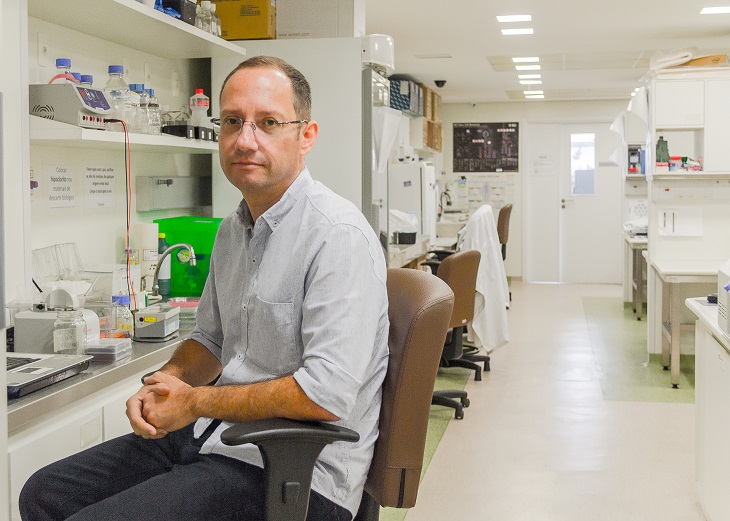
Foto: Leila Fugii
Historicamente, o Brasil passou por períodos de grande apoio à ciência,
que resultaram em grandes pesquisadores e descobertas.
Isso tem acontecido nos últimos anos?
A ciência no Brasil nunca teve o apoio como observamos em países europeus, no Japão ou nos Estados Unidos. Trata-se de uma questão histórica, de quando a ciência começou a fazer a diferença naqueles países. Se compararmos quando surgiram as primeiras universidades na Europa, ou nos Estados Unidos, temos aí um distanciamento de séculos do surgimento das primeiras universidades brasileiras. Somos um país, do ponto de vista acadêmico, muito jovem. Claro que, se nos compararmos à Coreia do Sul, concluímos que poderia ser diferente: até pouco mais de 15 anos atrás, a Coreia estava numa situação menos favorável que a do Brasil em termos de investimentos em ciência e educação, mas conseguiu se reposicionar em pouco tempo. Há, portanto, dois fatores. Primeiro, pesquisa ainda não é tradição por aqui. Segundo, há uma falta de visão sobre a importância estratégica da ciência. Em outras palavras, “analfabetismo científico”. De todo modo, sou otimista e acredito que esse cenário possa melhorar. É óbvio que, nesses últimos anos, a situação se agravou ainda mais, pois estávamos numa curva crescente de apoio à ciência no Brasil.
De que forma a crise econômica pela qual estamos passando interfere na produção científica brasileira?
Novamente, se fizermos uma comparação com os Estados Unidos, países da Europa e também com a China, que viveram momentos de crise, esses países não cortaram [o financiamento] para a ciência. Obviamente, precisamos economizar em tempos de crise, mas, proporcionalmente, a quantidade de dinheiro aplicado na ciência, se comparada a outras áreas, não faz muita diferença. O que estamos discutindo em termos de investimento para a ciência é muitíssimo menos do que a soma negociada no governo em relação às emendas parlamentares. Nota-se uma ignorância dentro da classe política. As leis e a política econômica não sabem o que é ciência nem sua importância.
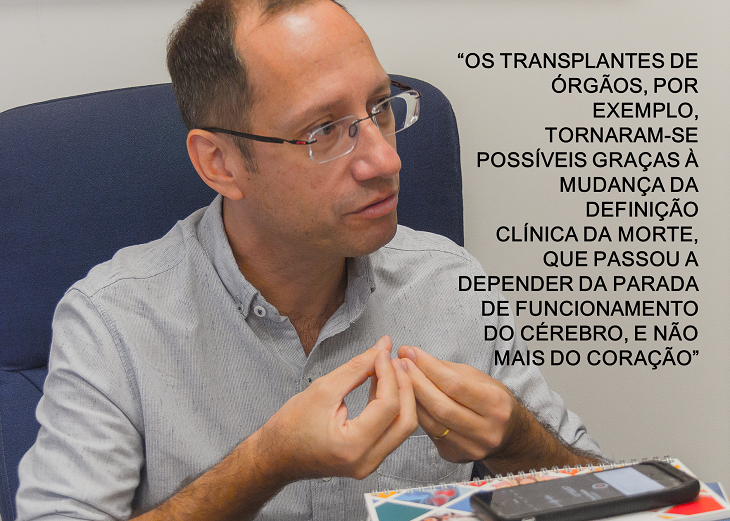
A que fatores atribuímos esse “analfabetismo científico”? E o que falta para que o Brasil compreenda que a ciência pode gerar riquezas?
Nossa atual taxa de analfabetismo é equivalente à dos Estados Unidos de um século atrás. Isso sem levarmos em consideração a população analfabeta funcional. É muito difícil sensibilizar a população sobre a importância da ciência quando existem questões muito mais básicas de compreensão. Para mudar isso só há uma solução: ênfase na educação. Só assim conseguiremos avanços e apoio da população em relação à ciência. Além disso, temos que sensibilizar a classe política. Se você conversa com um deputado ou senador sobre a importância da ciência e consegue sensibilizá-lo, será possível elaborar leis e ações positivas em relação não só à ciência, mas também à educação. Ambas andam juntas.
“RECENTEMENTE, OS PSICODÉLICOS VOLTARAM A SER ESTUDADOS NA INGLATERRA E NOS
ESTADOS UNIDOS. ESSE NOVO PERÍODO DE PESQUISAS VEM SENDO CHAMADO DE ‘RENASCIMENTO PSICODÉLICO’, A REDESCOBERTA DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DESSAS SUBSTÂNCIAS”
A biotecnologia, por exemplo, é um campo que mobiliza e atrai jovens que podem vir a ser cientistas, não?
A biotecnologia é o presente e o futuro. Ela também apresenta ferramentas e materiais associados que são lúdicos e atraentes para gente de qualquer idade. Há ações de divulgação científica, por exemplo, no Museu do Amanhã, que instigam esses jovens a participar do universo maker [a cultura maker aproxima a lógica do “faça você mesmo” da tecnologia]. Nos Estados Unidos, temos os garagelabs: laboratórios de garagem em que as pessoas podem alugar equipamentos de laboratórios para fazer pesquisas em biologia. São maneiras de estimular cada vez mais as pessoas a buscar compreender a importância da ciência por meio da biotecnologia.
Nas últimas décadas, houve um grande avanço em diversas pesquisas científicas por causa dessa junção da biologia com a tecnologia. Como você observa esse cenário?
Bill Gates e Steve Jobs capitanearam a grande revolução tecnológica do século passado. Nos próximos anos, a revolução será biológica. A fusão entre tecnologia e biologia nos permitirá manipular o genoma de uma maneira que era impossível e impensável há quatro anos. Por meio da técnica chamada CRISPR, há grandes chances de cura para vários tipos de câncer. É incrível o que já está acontecendo. Estamos vivendo uma grande revolução biotecnológica parecida com o que foram para a gente a internet e o smartphone – que já estão incorporados na vida cotidiana. Muitos pesquisadores vislumbram essa fusão do humano com o não humano – o que de certa forma já acontece com os telefones celulares tão presentes em nossas vidas.
Você tem visto outros apoios a essa cena no Brasil,
do governo ou do setor privado?
O Brasil é imenso e estamos submersos numa crise, por esse motivo apoios seguem escassos. No entanto, em momentos de desafio, surgem oportunidades. Na exposição Mundos Invisíveis – Mostra de Arte Científica Brasileira, no Museu do Amanhã [encerrada dia 7 de janeiro], reunimos imagens microscópicas criadas por cientistas brasileiros e transformadas numa exposição de arte.
Como funciona esse modelo público-privado ligado ao Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino?
Sou professor do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Existe um convênio da nossa universidade com o Instituto D’Or. Esse convênio permite mantermos um grupo de pesquisa no instituto em parceria com o ICB. Ao aliar a agilidade do setor privado com o que há de riqueza intelectual tanto na Rede D’Or quanto no setor público, conseguimos fazer ciência local de impacto global. Algumas de nossas pesquisas atraíram a atenção de outras grandes empresas com as quais criamos novas parcerias. Uma mudança de percepção de algumas empresas internacionais que passaram a investir em ciência brasileira. Temos pesquisas com financiamento público, outras com financiamento privado, e pesquisas para as quais eu busco financiamento público e privado. Neste momento, realizamos uma pesquisa para a criação, em laboratório, de neurônios humanos para uma grande empresa de cosméticos, que precisa de modelos alternativos – para testar seus produtos. Na Europa não é permitido usar modelos animais para testes de cosméticos. No Brasil, acontecerá o mesmo em breve. Fomos procurados para criarmos neurônios sensoriais humanos, isto é, neurônios que “sentem”, respondem a estímulos. Isso é importante na área de cosméticos. Explorar o efeito de cosméticos sobre as “sensações” e suas respostas neuronais associadas.
Nesse caso, como é possível criar neurônios sensoriais?
A partir de uma técnica de reprogramação celular, criada por um pesquisador japonês, é possível retirar um fragmento de pele, e nelas inserir “informações” para que “voltem no tempo”, para que passem a se comportar e a se organizar como se fossem células de um embrião. Em seguida, passamos
instruções a essas células para que se transformem em neurônios sensoriais. Assim parece simples, mas já são quatro anos de trabalho com essa finalidade. Nosso desafio atual é unir esses neurônios criados em laboratório com a pele humana. No fundo, o que queremos, a longo prazo, é desenvolver um modelo de laboratório para testar produtos de forma eficaz, em vez de testá-los em animais ou seres humanos.
Tendo em vista esses estudos, a questão do envelhecimento está em pauta?
Envelhecimento está em pauta em muitos laboratórios que trabalham com biologia molecular e celular. Sempre estaremos buscando formas de tentar entender o envelhecimento, faz parte da curiosidade humana! Principalmente em virtude do aumento da expectativa de vida da população. Hoje, muitas pessoas com 60, 70, 80 e 90 anos estão vivendo relativamente bem e querem, obviamente, viver mais. Isso é fruto da ciência, mas é claro que temos desafios pela frente. No Instituto D’Or, temos várias pesquisas sobre envelhecimento e doenças associadas. Em 2015, mostramos que, em pacientes com Alzheimer do tipo esporádico, existe a duplicação do gene APP localizado no cromossomo 21, o que pode explicar boa parte dos casos não genéticos da doença. Trata-se de duplicações de um gene que justamente leva à formação das placas beta-amiloides associadas ao Alzheimer. Essas placas interferem na comunicação entre os neurônios, matando-os. Uma das primeiras características do Alzheimer é o esquecimento, porque estão morrendo células numa das regiões do cérebro onde ocorre o armazenamento da memória.
Outra pesquisa que chama a atenção está relacionada
aos psicodélicos, como ayahuasca (bebida produzida com base em plantas e cipós). Quais foram os resultados observados até agora?
Psicodélicos foram utilizados e associados a sessões de psicoterapia na década de 1960, quando também começaram a ser banidos. Pesquisas foram proibidas por uma motivação política mais do que por uma questão de saúde pública. Recentemente, os psicodélicos voltaram a ser estudados na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esse novo período de pesquisas vem sendo chamado de “renascimento psicodélico”, a redescoberta do potencial terapêutico dessas substâncias. Há grupos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) pesquisando o efeito benéfico dos psicodélicos em casos de depressão, estresse pós-traumático, dependência por álcool e crack. Nos Estados Unidos, alguns estão sendo testados em soldados doentes que retornaram do Iraque e do Afeganistão. Os resultados são animadores.
“ENVELHECIMENTO ESTÁ EM PAUTA
EM MUITOS LABORATÓRIOS QUE TRABALHAM
COM BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR.
SEMPRE ESTAREMOS BUSCANDO FORMAS
DE TENTAR ENTENDER O ENVELHECIMENTO,
FAZ PARTE DA CURIOSIDADE HUMANA”
No Brasil, já temos pesquisas nesse âmbito?
Em nosso país, as religiões da floresta [a exemplo da Barquinha, entre outras] têm como base o consumo de uma bebida chamada ayahuasca, mistura de duas plantas. Essa liberdade religiosa permite o uso de psicodélico sem problemas. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os pesquisadores Dráulio Araújo e Sidarta Ribeiro já demonstraram os efeitos positivos da ayahuasca em casos de depressão. Já no Rio de Janeiro, buscamos o entendimento dos efeitos dos psicodélicos sobre neurônios criados em laboratório.
De que forma essas substâncias interferem no cérebro humano? E quanto tempo levaria para essas pesquisas resultarem em novos medicamentos ou tratamentos?
Uma das substâncias presentes na ayahuasca é a harmina. Descobrimos que a harmina é capaz de fazer com que células neurais se multipliquem, uma possível explicação para seu efeito antidepressivo. Com nosso modelo de minicérebros, começamos a estudar o efeito dos psicodélicos sobre as vias de sinalização relacionadas à formação de memória, regeneração, inflamação etc. Testamos em “pedacinhos” de tecido cerebral humano vivo chamados de minicérebros. Existe a expectativa de uso terapêutico de substâncias psicodélicas sobre a depressão e o estresse pós-traumático que deve se concretizar em breve. Para demais aplicações, os avanços dependem da continuidade de investimentos.
Certamente, você poderia trabalhar em qualquer
outro país com mais recursos. Por que preferiu
fazer suas pesquisas no Brasil?
O convênio entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino é um modelo ainda pouco explorado no Brasil: uma instituição de pesquisa privada e uma universidade pública juntas para fazer ciência da melhor qualidade. É uma situação ímpar. E isso me faz ter confiança, certeza e felicidade por estar no Brasil. Mas há muitas dificuldades... Principalmente relacionadas à burocracia. Enquanto, nos Estados Unidos, eu levava até 24 horas para receber um produto para usar na minha pesquisa, aqui o tempo de espera pode ser de vários meses, ou o material pode nunca chegar. Isso é um desafio grande que limita nossa competitividade. Fora isso, no meu caso específico, e por conta de parcerias público-privadas, além de conseguir publicar trabalhos de relevância mundial, estou muito bem aqui.
E como a legislação no Brasil lida com o avanço da ciência e da tecnologia? A comunidade científica e o Legislativo estão caminhando juntos?
É natural, e esperado, que a ciência e a tecnologia desafiem os limites da legislação, provocando reflexões sociais para que regras e leis sejam alteradas. Os transplantes de órgãos, por exemplo, tornaram-se possíveis graças à mudança da definição clínica da morte, que passou a depender da parada de funcionamento do cérebro, e não mais do coração. Mas isso não quer dizer que ambas as partes estejam caminhando juntas. Como disse, a ciência é muito mais rápida, enquanto a legislação é um consenso de pessoas que devem debater e refletir. Leva tempo. Lembremos dos bebês de proveta. No começo, as pessoas estranhavam essa possibilidade. Como pode haver fertilização fora do útero? Hoje é comum e a opinião das pessoas mudou. Natural que assim aconteça. Também é compreensível que exista o desafio de criar e adaptar leis à ciência. A questão é: quando os poderes de uma nação não têm a comunidade científica como conselheira, o que acontece? Mais um exemplo: a fosfoetanolamina [composto que foi usado para combate ao câncer]. O governo encomendou um estudo com dinheiro público que confirmou que a chamada “pílula do câncer” realmente não funcionava. Mesmo assim, ainda há deputados que querem (re)ativar um projeto para uso da fosfoetanolamina, ignorando as evidências. Isso mostra o quão importante é a capilarização da ciência por quem toma as decisões.
Outra questão que vem sendo debatida
é a da amortalidade. Como explicá-la?
O termo amortalidade é usado pelo Yuval Noah Harari, autor do livro Sapiens – Uma Breve História da Humanidade (L&PM, 2015). O imortal é o que nunca morre e o amortal é o que pode morrer “se der mole”, mas cujo corpo pode permanecer íntegro por muito mais tempo. Esse é o caso da pessoa que mais viveu até hoje e morreu aos 122 anos. Para vivermos mais, teremos que pensar em alternativas para aumentar o tempo de vida dos órgãos humanos, seja por terapia celular ou simplesmente pela substituição de órgãos. E num cenário ainda mais extremo, e futurista, trocar o corpo ou transferir a consciência do indivíduo para uma máquina. As pesquisas nessas áreas podem nos conduzir a ultrapassarmos a barreira dos 120 anos como espécie humana. Não à toa, a Google criou uma nova empresa – a Calico – para estudar o envelhecimento e a expectativa de vida. No Vale do Silício, como há muito dinheiro, é possível investir em coisas que pareciam do outro mundo, inimagináveis. Olhar a morte como doença. Uma mudança de paradigma que desafia a religião e o nosso futuro.
“NO VALE DO SILÍCIO, COMO HÁ MUITO DINHEIRO, É
POSSÍVEL INVESTIR EM COISAS QUE PARECIAM DO
OUTRO MUNDO, INIMAGINÁVEIS. OLHAR A MORTE
COMO DOENÇA. UMA MUDANÇA DE PARADIGMA
QUE DESAFIA A RELIGIÃO E NOSSO FUTURO”
@sescrevistae | facebook, twitter, instagram