Postado em
Comunicação em tempos de pandemia
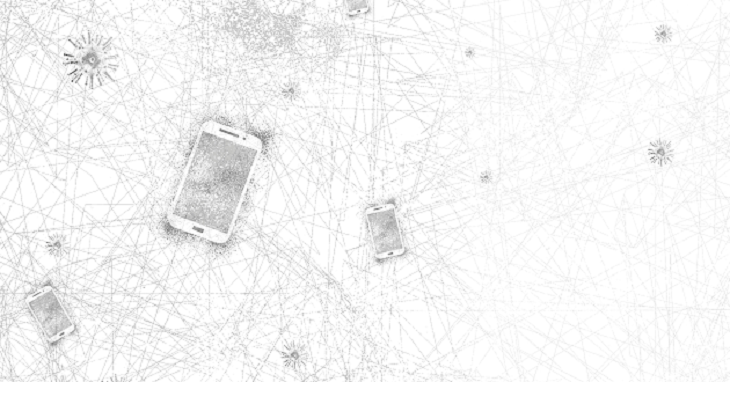
A ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra como resposta reverbera com intensidade neste cenário provocado pelo novo coronavírus. Desde meados de março, a comunicação por meio de mensagens eletrônicas e pela mediação de plataformas digitais prevalece sobre a conversa cara a cara. Passamos a nos comunicar mais, inclusive, com interlocutores cada vez mais distantes geograficamente. Além disso, há uma velocidade maior de produção e consumo de notícias. “A necessidade de isolamento social criou um paradoxo: nunca estivemos mais próximos e mais distantes ao mesmo tempo. Nesse cenário, a mídia e a comunicação têm um papel crucial”, afirma Luís Mauro Sá Martino, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pela primeira vez, todo o mundo passa pela mesma crise simultaneamente, tornando visíveis ações de empatia e solidariedade que atravessam fronteiras por meio da internet e de redes sociais. “No caminho para sermos uma aldeia menos desigual, precisamos apostar na nossa humanidade”, aponta Helena Jacob, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Será que a comunicação de hoje transformou, pela primeira vez, o mundo numa aldeia global, única, e simultânea? Neste Em Pauta, Martino e Jacob refletem sobre o assunto.
A vida além dos likes
Luís Mauro Sá Martino
Nunca, como espécie, enfrentamos um desafio deste tamanho. Não se trata mais de países em guerra ou povos em conflito, mas de toda uma espécie ameaçada – a nossa. Irônico: nós, que durante séculos ameaçamos outras vidas no planeta, agora enfrentamos um risco inédito. A necessidade de isolamento social criou um paradoxo: nunca estivemos mais próximos e mais distantes ao mesmo tempo. Nesse cenário, a mídia e a comunicação têm um papel crucial. Não podemos subestimar o poder da informação.
Uma boa parte do nosso acesso à realidade é por meio da mídia, especialmente das redes digitais.
Muito do que podemos ver sobre o mundo chega até nós pelas informações que circulam nas mídias, seja um portal de notícias, seja no grupo da família. A partir delas, ao lado de outros fatores, formamos nossas opiniões e definimos atitudes.
Houve um tempo em que esse poder estava localizado nas grandes empresas de mídia, que agrupavam a produção de informações.
Essa concentração ainda existe, mas o cenário se expandiu. Atualmente, cada uma e cada um de nós podem decidir, ao receber uma notícia, se vão passá-la para a frente ou não – e assumir a responsabilidade ética por isso. Por esse motivo, mais do que nunca precisamos pensar no que estamos fazendo ao divulgar informações (“grandes poderes trazem grandes responsabilidades”, como sabem todos os fãs do Homem-Aranha).
Estamos obrigatoriamente ligados pelas mídias digitais – ao menos para aqueles que têm a possibilidade de trabalhar de casa, lembrando que não é todo mundo. Mas o mundo pré-Covid-19 era mesmo muito diferente nesse ponto? Não vivíamos olhando para telas luminosas o tempo todo? O distanciamento social já não acontecia de outra maneira, quando, às vezes, estávamos na presença física de outras pessoas, mas ocupados demais com nossos smartphones?
Como lembra a filósofa Simone Weil, a escuta e a atenção estão entre os presentes mais importantes que podemos oferecer a outro ser humano. Talvez, neste momento, seja hora de retomar a escuta atenta, cada vez mais rara em uma sociedade onde falamos muito, postamos muito, e respondemos pouco. Agora que, para algumas parcelas da população, a presença física foi reduzida ao mínimo, talvez a gente comece a perceber que o mundo offline, afinal, fazia uma imensa diferença.
Informação X Comunicação
Será que, na prática, não temos muita informação, mas pouca comunicação? “Informar não é comunicar”, diz o pesquisador Dominique Wolton no título de um de seus livros. Isso leva a outra pergunta: o que significa “comunicação”?
A palavra vem do latim communis, que significa “tornar algo comum”. Essa ideia está nas vizinhanças de outras expressões que usamos no cotidiano, como “comum”, “comunidade” e “comunhão”. E aqui temos uma primeira armadilha da palavra: geralmente, quando falamos de “comum”, é no sentido de “normal”, “cotidiano”, que não tem nada de especial.
Não está errado, mas o sentido vai além disso.
A comunicação exige uma atitude diferente em relação aos outros, perguntando “O que podemos ter em comum?”. O que compartilhamos, além de nossa condição humana? Comunicar, nesse sentido, é uma ação, um gesto que fazemos na direção de outra pessoa quando assumimos que, para além de todas as diferenças, temos algo em comum.
Se, por algum motivo, achamos que não há nada em comum com outra pessoa, a comunicação se torna impossível. É o que, infelizmente, encontramos às vezes nas mídias sociais: posicionamentos rígidos, que dificultam, ou impedem, qualquer debate. O resultado da ausência de comunicação geralmente é o conflito, a ruptura, a incompreensão da diferença. Talvez por isso, lembra a filósofa Edith Stein, a empatia seja muito mais difícil do que se imagina – e começa com a tentativa de construir algo em comum.
Isso significa também respeitar e valorizar o que nos torna diferentes. A comunicação é uma tentativa de encontrar o que há de comum na diferença – e não reduzir as diferenças a um rótulo para encaixá-las na minha maneira de ver o mundo. Às vezes, na velocidade das mídias digitais, classificamos as pessoas a partir de um único comentário, uma foto, um post.
Toda a complexidade do outro é diminuída a uma única definição, categórica, quase certa.
De certa maneira, a comunicação é um pouco o contrário disso: é incerteza, ambiguidade, abertura para o que pode ser. A relação com os outros nos desloca de nossa zona de conforto, nos leva para longe daquilo que somos, revela um pouco do que podemos ser. Todas e todos nós, além do que somos, também temos a potência de ser. Como diz Friedrich Nietzsche em A Gaia Ciência, poder “tornar-se aquilo que você é”.
Evidentemente, isso não é fácil. Não é todo dia que estamos com vontade de ter uma abertura para o outro, encontrar pontos em comum, lidar com a complexidade do ser humano. Há pessoas difíceis – assim como a gente também deve parecer difícil para outras pessoas. Nem sempre estamos com humor para isso, e é importante reconhecer esses momentos. Respeitar o negativo é uma maneira de lidarmos com nossa condição humana. É uma forma de estabelecer a comunicação mais importante – com a gente mesmo.
Um novo mundo
Quando se vive em uma ideia constante de eficiência, raramente temos tempo para entrar em contato conosco, ouvir nossos pensamentos, escutar o corpo. Às vezes, só nos lembramos disso quando a mente e o corpo mandam a conta pelo cansaço constante, e a saúde mental ou física soa o alarme. A vida de alta performance, exigida o tempo todo, nos coloca em uma velocidade adequada às exigências da técnica, mas talvez não aos seres humanos. E vale lembrar: se criamos esse mundo, ele pode ser modificado.
Conectados, estamos na presença constante uns dos outros, diante de todo o planeta, e diante de nós mesmos. Não é a diferença que dificulta a comunicação, mas a indiferença. Indiferença em relação ao outro do qual não preciso, com quem não me sinto compartilhando nada, de quem mal vejo a humanidade. Quando deixo de ver na outra pessoa as mesmas características que me definem, lembra a filósofa Hannah Arendt, abro caminho para esquecer sua condição humana.
Na reconstrução do mundo pós-Covid, a mídia e a comunicação serão fundamentais para definir os rumos que poderemos tomar. Um uso das redes sociais com mais responsabilidade, partindo de cada um e cada uma de nós, pode aumentar nossa capacidade de diálogo e entendimento. E a comunicação, criando espaços comuns, pode nos ajudar a construir uma convivência melhor. Antes desse futuro, talvez seja necessária uma atitude difícil, mas importante – a coragem de aprender com este momento.
Luís Mauro Sá Martino é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professor e pesquisador de Comunicação na Faculdade Cásper Líbero, além de autor de Comunicação: Troca Cultural (Paulus, 2005) e Comunicação e Identidade (Paulus, 2010).
A comunicação será a melhor arma contra as desigualdades no mundo
Helena Jacob
Temos, como sociedade, o hábito de realizar eventos para contar sobre grandes mudanças nas nossas vidas: um bebê que vai nascer, um casamento que irá acontecer, uma descoberta científica que vai revolucionar o mundo. Usamos sempre o ato de comunicar e, portanto, de nos vincularmos uns aos outros para fazer a vida acontecer. Diferentemente do que muitos imaginam, transformamos a comunicação não pelas novas tecnologias, como podemos supor enganosamente no acelerado século 21, mas pelos nossos relacionamentos.
A chave continua sendo a necessidade do homem de “tornar comum”, como o sociólogo Muniz Sodré se refere ao falar do processo humano de comunicar.
E isso continua válido no mundo de hoje, profundamente transformado, desde 31 de dezembro de 2019, quando foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus (SARS-COV2), que é o causador da Covid-19. Vemos aumentar a dependência dos meios que permitem que o fluxo comunicacional continue a existir. E isso acontece tanto por causa dos nossos trabalhos e estudos, quanto e, principalmente, por causa dos nossos relacionamentos. Gregários, como somos, estar em isolamento social é doloroso e potencialmente autodestrutivo.
Tentando escapar dessa tragédia do estar só, nos comunicamos e consumimos informação como nunca, alterando para sempre os caminhos do tornar comum. Mais agora com a mediação constante das tecnologias, acelerando um processo já em curso há alguns anos na nossa sociedade.
Tanto na vivência e enfrentamento atuais da pandemia da Covid-19, quanto no futuro próximo alterado profundamente pela urgência de saúde pública mundial, a importância da comunicação se desvela em muitas esferas. Assim é, por exemplo, no trabalho de combate às fake news, monstruosidades que custam vidas e matam na guerra da desinformação.
Nesta realidade não somos ainda capazes de precisar qual será nosso futuro. Contudo, urge discutir se somos mesmo uma aldeia global, próxima daquela tribo conectada pelos canais de comunicação que Marshall McLuhan discutiu no clássico A Galáxia de Gutemberg, nos anos 1960, ou se estamos mais para a realidade das fronteiras fechadas, grito xenófobo que se aproveita da catástrofe para aumentar muros e aprofundar desigualdades. A partir dessa questão, quais cenários podemos discutir para a comunicação pós-pandemia, sabendo que aquilo que nos norteia neste cenário é, de saída, a imprevisibilidade?
Somos uma aldeia?
Em tempos de guerra pandêmica, temos acessos desiguais àquilo que a OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica como arma de combate ao novo coronavírus: a informação de qualidade. Ou seja, eficaz no sentido de informar e assim ajudar a prevenir, combater o vírus e proteger os mais vulneráveis e indefesos no enfrentamento da crise.
Na “bolha” daqueles que têm formação educacional, acesso e compreensão dos meios de comunicação, a prevenção contra o Sars-COV2 parece lógica e até relativamente simples: lave as mãos, mantenha distância, use máscara. Nesse caso, inclusive, o acesso à informação é tanto que acaba incorrendo nos males do excesso informativo: pânico, stress, medo do futuro incerto. Quando nos comunicamos pelas telas, nos falta o vínculo ao humano e acabamos nos vinculando ao medo: sofrendo os desgastes do isolamento e das perdas da pandemia, ou negando o vírus, vinculando-se ainda ao medo no formato da ignorância e da incapacidade de entender a ciência e acreditar nela.
Fora da bolha, a imensa população mundial que passa por variados graus de desconhecimento: de não entender o que é um vírus ou também negar a existência ou letalidade dele, passando especialmente pela falta de condições sociais e materiais para se precaver dos perigos que a Covid-19 oferece.
Estamos em 2020 e continuamos padecendo dos males dos impérios colonizadores: o vírus, que nada tem de democrático como acreditam alguns mal-intencionados, golpeia com mais força as populações pobres e, particularmente, as negras e indígenas, relegadas que são ao descaso histórico e, sem dúvida, também contemporâneo.
Por isso é importante que defendamos um mundo pós-pandêmico que discuta, em todos os processos de comunicação, formas de combater a desigualdade, a colonização de força de trabalho e de mentes. E mais, como fazer isso sem aumentar muros e nos isolar em nacionalismos que apenas levam a extremos? Relembrar os fatos da história, discutir os erros e reforçar os compromissos com jornalismo são parte do caminho.
Construção de vínculos
No caminho para sermos uma aldeia menos desigual, precisamos apostar na nossa humanidade. O psiquiatra Boris Cyrulnik, autor do conceito de resiliência humana, aponta caminhos de comunicação no belíssimo Autobiografia de um Espantalho, obra que narra histórias de superação psicológica de crianças traumatizadas pelas mais distintas catástrofes.
No mundo pós-pandêmico, não há dúvidas de que seremos também um exército de traumatizados, em diversos graus, e precisaremos usar as ferramentas que Cyrulnik aponta: empatia e comunicação.
Lembrando que para cada pessoa morta temos entre quatro e dez pessoas enlutadas, viveremos a realidade da dor pelas perdas de inumeráveis vidas e pela perda do futuro presumido: o mundo mudou e temos que decidir como enterrar os mortos, distribuir as vacinas, tratar dos doentes e, sem nenhuma dúvida, nos prevenirmos contra a próxima pandemia.
Precisaremos como nunca dos vínculos do comunicar, tornando comuns nossas dores e construindo laços empáticos de atuação, para assim construir poderosas redes de comunicação.
A grande batalha
No mundo pós-tudo – pandemia, isolamento social, perdas e lutos –, ainda continuaremos travando a mais árdua das batalhas: contra a desinformação usada como arma de guerra política e econômica, que tantas vidas subtrai. Combater as notícias falsas, os robôs que inflacionam a desinformação nas redes sociais e o descrédito semeado contra a imprensa ainda serão a nossa maior batalha na comunicação.
As notícias falsas são antigas na mídia, mas, com terreno de expansão fértil na inteligência artificial das redes sociais, elas não só desinformam: elas passaram a matar. Um exemplo são as fake news de que caixões estavam sendo enterrados vazios em Manaus, uma das cidades mais atingidas pela pandemia no Brasil, que fragilizam ainda mais os manauaras, hoje vítimas de uma grande tragédia de saúde pública.
Quem trava esse tipo de combate não se importa com empatia, com o vincular e o tornar comum e muito menos com vidas: quer apenas jogar o pernicioso jogo do confundir para conquistar.
Não se negociam vidas numa sociedade justa. É em prol do resgate histórico, do acerto de contas com o passado e no combate às desigualdades que precisamos pensar a principal missão do comunicar: tornar a verdade dos fatos, não das opiniões, o real comum dos processos de vínculo e das informações. E, para isso, precisamos de uma comunicação forte e atenta, especialmente na figura do jornalismo cidadão e compromissado com a ética e a verdade dos fatos.
Helena Jacob é doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professora dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu da Faculdade Cásper Líbero e professora da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), nos cursos de Relações Públicas e de Publicidade e Propaganda.














