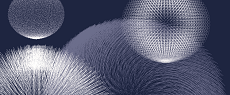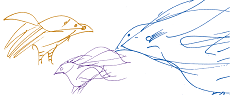Postado em
Os sertões de Mia

Mia Couto | Foto: Leila Fugii.
Quando menino, António Emílio Leite Couto passeava pelos trilhos de trem da cidade de Beira (Moçambique) catando pedras. Adulto, Mia Couto passeia pelo papel, com o lápis em punho, catando coisas de vários nomes. E assim ele segue, garimpando lugares, sentimentos e pessoas para habitar os enredos de Terra Sonâmbula (1992), Um Rio Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra (2002), O Bebedor de Horizontes (2018), entre romances, contos e poesias publicadas no país pela Companhia das Letras. Para isso, o escritor moçambicano – Prêmio Camões 2013 – teve como importante referência a obra de João Guimarães Rosa (1908-1967), mestre que, ele conta, “abriu um horizonte”. No Sesc Pinheiros, para o lançamento de uma nova edição de Grande Sertão Veredas (Companhia das Letras), em abril passado, Mia Couto recebeu a Revista E no camarim do Teatro Paulo Autran para uma entrevista sobre o legado paterno, começos, recomeços e, claro, sertões. “Acho que a literatura é fundamental. É importante saber que ela nos convida para uma viagem, mas que essa viagem não pode ser equiparada à deslocação física. Os escritos transportam numa espécie de apetência para um desejo para viajar”, defende.
Poesia que vem do pai
Eu tive uma sorte, não é mérito meu, mas eu tive um Manoel de Barros em casa. Meu pai era um poeta. Ele estava atento a este mundo das coisas pequenas. No meio das cinzas, da poeira, do lixo, ele encontrava pequenas belezas. Quando li Manoel de Barros, lembrei-me do meu pai. Eu era muito desatento, não era bom aluno, então, minha mãe me mandava fazer os deveres de casa na estação [de trem] onde ele trabalhava, onde ele fingia trabalhar porque ele achava que aquilo não valia a pena. Em vez de disciplinar-me naquilo que eram os deveres que eu tinha que fazer, ele estava ansioso para que eu despachasse aquilo porque queria sair ao longo das linhas férreas. Ele ia à procura das pedras que caíam, pequenos minérios que caíam dos vagões. Era como se eu tivesse que tomar conta dele, porque ele era uma criança, mais do que eu. E aquilo que ele fazia, eu sabia que era uma desobediência, porque tinha esse sabor de desobediência. Somos três irmãos e quando meu pai morreu percebemos que ele nos ensinou tanta coisa sem nunca ser dita. Nunca era por via do mando ou da norma. Era uma coisa sutil. Meu pai morreu com 89 anos, muito debilitado. Recebemos centenas de mensagens. Nós ficamos muito comovidos porque ele trabalhava com jovens que nem na família nem na escola tinham qualquer apoio. Meninos que sonhavam ser escritores. Por isso, decidimos constituir uma fundação com o nome dele [Fundação Fernando Leite Couto*]. Ela funciona em Maputo, com atividades de literatura, fotografia, design, música, escultura, pintura.
Escrever para não esmorecer
Nasci num lugar em que essa fabricação da alegria, de uma não tristeza que nem sempre é uma alegria, é como uma habilidade de inventar um amanhã que não tem nome. Os africanos são muito aptos para isso e acho que o Brasil herdou um bocado dessa característica. Esse lado brasileiro virado para a frente, para a vida, para festejar, para o carnaval. Eu reencontro muito a África aqui. Então, mesmo nos momentos mais difíceis – nós tivemos uma guerra que deixou um milhão de mortos –, eu não tinha espaço para me reinventar, para recomeçar, e, mesmo assim, eu visitava os lugares que haviam sido atacados, via cinzas e, de repente, via alguém tocando um tambor, fazendo uma dança. Os africanos exorcizam a dor não pela sua nomeação. Eles não falam da dor. Eu revisitei Beira [cidade moçambicana devastada pelo ciclone Idai em março deste ano], muito rapidamente, e foi absolutamente essencial ter ido lá. Tenho esse lado europeu, vamos dizer assim, grande fabricador de tristeza. Mas é uma tristeza que não me abate, é mais uma melancolia que mepermite perceber o mundo pelo olhar da carência. Meus amigos foram ao aeroporto me esperar porque era difícil caminhar pela cidade. Eu ia dar um abraço de conforto, mas eles é que me confortaram porque já estavam reerguendo suas casas.
Horizonte Rosa
Eu tinha publicado meu primeiro livro de contos muito inspirado naquilo que (José) Luandino fazia em Angola. E Luandino, de quem sou amigo, me alertou: “Mas fiz isso porque existe o João Guimarães Rosa”. Não tinha como eu ter contato com o João. Estávamos numa guerra civil e eu estava fazendo meu segundo livro de contos. Um amigo brasileiro que havia se refugiado por causa da ditadura no Brasil me trouxe uma fotocópia de A Terceira Margem do Rio [um dos contos mais emblemáticos de Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Estórias, em 1962]. Então, senti aquilo que sentiu Luandino. O Guimarães tinha resolvido um problema delicado que é o da oralidade em conversa com a escrita, e isso foi fundamental. É Guimarães Rosa que nos abre esse horizonte... Essa luz verde para ser autorizado a fazer essa transgressão daquilo que era o português padrão. Há gente que não fala português ou fala como uma segunda língua. Portanto, ali, cada pessoa que fala português é o tradutor de uma língua, é o tradutor de um mundo. Aquelas línguas têm universos simbólicos diferentes. Então, há uma questão que não é só linguística, mas de entendimentos do mundo. No sentido de missão, se eu quero alguma coisa na escrita é erguer o meu próprio sertão: lugares que são mais da linguagem que da geografia.
*Instituição cultural moçambicana, inaugurada no ano de 2015, em Maputo, que visa contribuir para o desenvolvimento da cultura moçambicana ao trabalhar com diversos parceiros no setor da literatura e das artes, promovendo um convívio da sociedade com os fazedores da cultura. (Saiba mais em: http://www.fflc.org.mz)