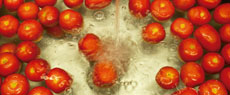Postado em
Cineclubes: do passado ao futuro
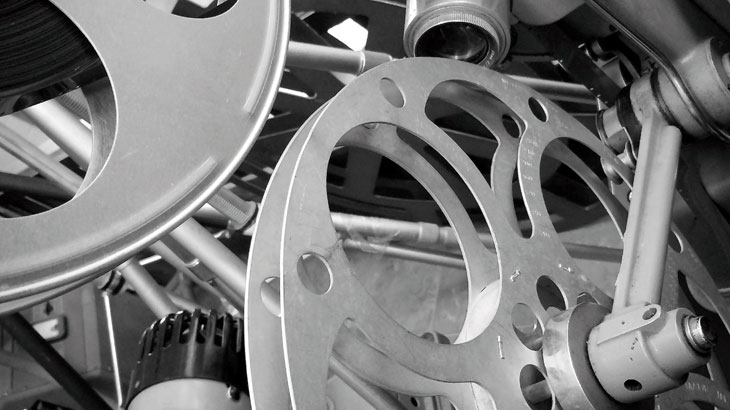
O primeiro cineclube do Brasil foi fundado em 1928, no Rio de Janeiro, homenageando um dos grandes protagonistas da sétima arte, o ator, diretor, compositor, roteirista e produtor inglês Charles Chaplin (1889-1977). Pouco mais de uma década depois do Chaplin Club, foi a vez do trio de críticos da arte formado por Paulo Emílio Sales Gomes, Décio de Almeida Prado e Lourival Gomes Machado descortinar a tela do Clube de Cinema de São Paulo na capital paulista. “Esses nomes, entre outros, misturados de maneira desconexa, aparecem na minha cabeça sempre que se fala em cineclubes. É claro que acompanhando esses nomes chegam: Associação Cinemateca Brasileira, Cine Bijou, Cine Picolino, Cine Clube do Bixiga”, recorda o cineasta Ugo Giorgetti, que há mais de 40 anos se dedica à ficção e ao documentário. De lá para cá, dezenas de espaços voltados ao acesso e exibição de produções cinematográficas nacionais e internacionais, seguidas de debates e trocas de conhecimento, abriram as portas ou ocuparam espaços públicos, como o Cine Campinho, em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo, uma prova de que cineclube não é coisa do passado, mesmo em tempos de streaming. Na capital paulista, a Spcine (empresa de fomento audiovisual da Prefeitura de São Paulo) recebe mensalmente novos pedidos de abertura de cineclubes. Tamanha é a busca que gerou a criação do Circuito Cineclubista, iniciativa que reuniu 34 polos culturais de todas as zonas da capital em novembro do ano passado. “É importante também evidenciar que o cineclube preenche um lugar bastante importante no circuito cinematográfico por ser, em geral, um espaço livre das lógicas do mercado e de sua demanda constante por novas produções”, acrescenta o gestor cultural Giovanni Pirelli, curador, cofundador e diretor executivo do centro de cultura Marieta, no Centro de São Paulo, onde funciona o cineclube Marieta. Afinal, qual é a importância dos cineclubes? E como se apresenta o futuro desses espaços? Sobre o assunto, Giorgetti e Pirelli traçam reflexões.
Uma questão de memória
Ugo Giorgetti
Cineclube não é uma sala de projeção com bilheteria e gente entrando e saindo para ver um filme. Cineclube é antes, e acima de tudo, uma atitude. Uma atitude que embute um sonoro e enfático “NÃO!” ao que é oferecido como cinema pelas grandes corporações. Cineclube abriga quem quer mais, quem sabe que há mais e que precisa conhecer mais. O cinema oficial dos blockbusters não alimenta nem é suficiente. Essa revolta, creio, está na origem dos cineclubes. Quem quiser saber dados objetivos – quantos eram os cineclubes e quantos são hoje, o nome deles e as cidades em que se situavam, ou situam – pode recorrer à internet. Está tudo lá. Eu só consigo recorrer às minhas memórias.
Memória é algo caótico que chega aos saltos e golfadas e se retira tão intempestivamente como chegou. É frequentemente imprecisa, mas, talvez por isso mesmo, em geral retém o que ficou de mais precioso. Não sei bem se frequentei com a assiduidade esperada de um cineasta algum cineclube. Devo certamente ter ido a alguns deles.
O que sei é a atitude (essa, sim, conheço bem) e nela me acostumei e cresci intelectualmente nesta cidade de São Paulo. Lembro-me pouco das salas, mas lembro muito dos filmes e, principalmente, dos nomes, com as inevitáveis e indesculpáveis omissões daqueles que realmente estiveram por anos e anos à frente dos cineclubes proclamando seu discreto protesto contra o estado das coisas em várias e diferentes épocas.
Lembro-me de Paulo Emílio Sales Gomes, Rudá de Andrade, Jean-Claude Bernardet, Francisco de Almeida Salles, Dante Ancona Lopes, Bernardo Voborov, Álvaro de Moya, Adhemar Oliveira. Esses nomes, entre outros, misturados de maneira desconexa, aparecem na minha cabeça sempre que se fala em cineclubes. É claro que acompanhando esses nomes chegam: Associação Cinemateca Brasileira, Cine Bijou, Cine Picolino, Cine Clube do Bixiga…
Mostras pequenas e grandes de filmes fora de catálogos. Jornadas de cinema alternativo, encontros em localidades improváveis, quase imaginárias. Nem o período de 1964 a 1985 no Brasil, nem os pesados e desajeitados trambolhos sempre caindo aos pedaços que eram os equipamentos de projeção e cópias de filmes em 35 mm e 16 mm venceram essa atitude de enfrentamento que, espero, não esteja inteiramente morta.
Os anos de violência, truculência e ameaças fizeram muito bem aos cineclubes. Nos anos da Guerra do Vietnã, das revoltas dos negros americanos, das demonstrações estudantis na Europa, das ditaduras sul-americanas, os cineclubes passaram de úteis a imprescindíveis. Esses anos foram também os anos da descoberta de um novo cinema, quando artistas, críticos, pensadores, ensaístas se debruçaram desesperadamente sobre essa arte dando-lhe importância acadêmica e cultural como eu nunca tinha visto antes.
Parece que nas dificuldades se consolida a vontade de desafiar e, sem nenhum otimismo injustificado, pressinto que a atitude antiga, que tanto sustentou os cineclubes do passado, pode ainda existir nos cineclubes do presente. Cada espectador que viveu os anos finais de 1950 até os dias de hoje tem seus cineclubes preferidos. De minha parte destaco um deles pela importância pessoal do seu criador e pela transformação imensa que exerceu na comunidade cinematográfica em geral.
Qualidade de primeira
Falo do Cineclube do Bixiga, na rua 13 de Maio, e de uma das pessoas que estiveram à frente dele: Adhemar de Oliveira. Era um cineclube típico com programação sofisticada e uma característica nova, a meu ver: o respeito pelas condições técnicas da sala de projeção. Dentro de suas modestas possibilidades iniciais, via-se que fazia o impossível para que a imagem na tela fosse vista na sua integridade, o som audível e as palavras compreensíveis.
As grandes salas de cinema de São Paulo nos anos 1980, quando o Cineclube do Bixiga apareceu, estavam no auge de sua decadência. As instalações eram execráveis, as telas sujas, as lâmpadas dos projetores quase imprestáveis, o equipamento sonoro pré-histórico, donde se espalhava a noção que os filmes brasileiros tinham um som horrível. Talvez tivessem, mas nada comparado com as condições existentes nas salas para transmitir o que estava nos filmes.
Quando comecei a fazer comerciais para a televisão, me indagava, intrigado, como se entendia tudo nas miseráveis caixas de som das tvs da época e nada nas salas de cinema. E, no entanto, o som, seja para comerciais ou longa-metragens, era feito com os mesmos equipamentos. Fora esse aspecto meramente material, nós, os cineastas de São Paulo passamos a ter em Adhemar de Oliveira um interlocutor inteligente onde antes encontrávamos apenas, por trás de olhares opacos, um espantoso nada.
Não havia diálogo algum entre artistas e exibidores dadas as distâncias que separavam o que havia dentro das respectivas cabeças. A herança do Cineclube do Bixiga foi transportada intacta por Adhemar quando inaugurou na rua Augusta, no lugar do extinto Cine Marachá, o Espaço Banco Nacional de Cinema, com projetores novos, som adequado e justiça para o cinema nacional. Ele lá está, mais do que nunca, mantendo a velha atitude.
Revolução digital
Os tempos são outros e as dificuldades são outras também. Os antigos cineclubes não tinham que lutar contra obstáculos gerados pela própria atividade. O que quero dizer é que a revolução do digital abriu imensa possibilidade para o cinema em casa, um cinema solitário que dispensa a sociabilidade dos cineclubes e até das salas. Mas não queria terminar essas palavras com qualquer travo de melancolia… Ao contrário, queria acabar fazendo menção a um exemplo de cineclubista, sem sala e sem clube, que não se abatia facilmente diante de obstáculos: Leon Cakoff.
A Mostra Internacional de Cinema que criou continua como um cineclube itinerante, espalhado por inúmeras salas. Um marco cultural fincado na cidade para sempre. Sua organização e seu espírito são herdeiros do cineclubismo no que tem de melhor: exibir filmes sem levar em conta nenhuma outra circunstância senão sua qualidade.
Quando me convidaram para escrever sobre cineclubes não sabia como começar e vejo agora que não sei igualmente como terminar. Só sei que eles estão por aí. No tempo das estatísticas, das pesquisas infindáveis e das amostragens minuciosas, eles são facilmente localizáveis. E que cada um encontre o seu.
Ugo Giorgetti, cineasta paulistano, criador da produtora SP Filmes, publicitário, roteirista e diretor de ficções e documentários; entre algumas produções estão Festa (1989), grande vencedora do 17º Festival de Gramado, Sábado (1994), Boleiros – Era uma Vez o Futebol (1998) e Solo (2009), um monólogo do ator Antônio Abujamra (1932-2015).

Imagem: Pixabay
Lugar do encontro, do encanto e da comunidade
Giovanni Pirelli
Semana passada subi num ônibus na Rebouças em pleno horário de pico. Passei a catraca e me espremi delicadamente entre outros corpos pesados de fim de dia. Sentada na minha frente, uma moça assistia concentrada a um episódio de algum seriado não bem identificado em seu telefone inteligente. Ao seu lado, outro passageiro matava o tempo da condução assistindo ao que parecia ser o primeiro episódio de House of Cards.
Na altura da Consolação, precisei abandonar minha posição para deixar o tráfego de pessoas fluir em direção à saída. Consegui conquistar um ótimo lugar sentado no fundo, bem ao lado de um jovem pai com sua criatura no colo. O pai em questão, para entreter o filhinho durante a viagem e talvez aproveitar um pouco de merecido silêncio introspectivo, sacou o telefone do bolso, acertou os fones de ouvido nas orelhas do filho e botou play em um desenho animado coloridíssimo.
Rapidamente, fiz um elenco mental: Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney Plus, Globo Play, HBO GO, MUBI, The Criterion Collection etc. Quantos formidáveis serviços para consumir cinema online, podendo escolher em autonomia o que assistir, pausar para ir ao banheiro ou mudar de programa se tiver escolhido errado. Como disse: formidável! E, vamos combinar, até barato: com o plano familiar, pelo preço de um você pode assistir a sua comédia favorita enquanto sua filha adolescente assiste a Euphoria trancada no quarto, sua outra filha nerd se dobra de gargalhadas com Adventure Time e sua sogra, que agora vive “temporariamente” contigo, se vinga da vida assistindo a Grace & Frankie num volume criminoso.
Ação em foco
Eu e meus pensamentos estávamos a caminho do Marieta, centro cultural que ajudo a coordenar e que organiza semanalmente um cineclube gratuito. Descendo do ônibus, me perguntava: como é possível que, mesmo com tanta oferta, com tantas possibilidades e ferramentas diferentes para acessar conteúdos no conforto do lar, como é possível, penso eu, que mesmo assim tenhamos todas as semanas em nossas sessões de 20 a 50 pessoas (ok, às vezes cinco pessoas) que aceitam atravessar essa cidade indelicada, deslocando seus corpos no tempo e no espaço paulistano para vir assistir a filmes em nossa sala?
Em São Paulo, nos últimos anos, surgiram dezenas de cineclubes – formais e informais –, alguns temáticos, outros dedicados a faixas etárias ou a grupos identitários específicos. O movimento é tão relevante que a Spcine começou um projeto de mapeamento dos cineclubes da cidade, e revistas de programação cultural de grande distribuição dedicaram edições especiais aos “melhores” cineclubes do momento. Pois bem, qual o papel que essas iniciativas assumem na sociedade e por que têm sido tão procuradas pela população mesmo com a ascensão das plataformas de VOD online?
Pessoalmente, acredito que a grande força de um cineclube está na sua potência em fomentar o encontro entre pessoas diferentes com interesses em comum. Não se frequenta um cineclube apenas para assistir a um filme, mas para discutir e conversar com outras pessoas sobre cinema, vida e existência a partir da experiência cinematográfica.
A discussão que segue a projeção é sempre um momento precioso que permite ampliar o horizonte da nossa compreensão do filme. Ter a possibilidade de ouvir as opiniões e reflexões de outras pessoas faz com que tenhamos acesso a pontos de vista talvez, para nós, impensáveis e às vezes até iluminantes. Mas é impossível concordar com todo mundo nessa vida e, por isso, o cineclube é também um importante laboratório de cidadania, onde se exercitam constantemente a tolerância e o diálogo democrático na disputa de interpretação dos símbolos e das mensagens promovidas pela arte.
Uma questão de curadoria
Outro aspecto interessante de se observar, pensando na comparação entre cineclubes e serviços de streaming, é a questão da curadoria e de como ela pode ser um elemento-chave na relação com o público. Não nego o prazer leve de voltar para casa no fim do dia, me sentar descalço em frente a algum tipo de monitor e abrir a videoteca de meu serviço de streaming favorito. É fantástico, estamos de acordo. Pura magia, com essa abundância de oferta. Mas magia com um tanto de feitiço escondido, eu diria.
Temos a percepção, ao descer o olhar pelo cardápio das plataformas, de estarmos em completo controle sobre as nossas escolhas enquanto, na realidade, a seleção é mediada por um algoritmo que conhece perfeitamente o nosso comportamento digital, nosso gosto. Seu objetivo é que passemos o maior tempo possível conectados à plataforma e por isso condensa sua proposta de entretenimento no molde em constante transformação que preparou exclusivamente para nós.
O algoritmo garante que vamos gostar de tudo o que vai nos mostrar. Tem quem diga: lindo. Lindo até um certo ponto, talvez. A experiência artística é tanto mais transformadora para um indivíduo quanto maior a variedade de estímulos que ela lhe proporciona. Como podemos descobrir coisas novas, nos surpreender, se tudo a que assistimos é parecido? O algoritmo não gosta de surpresas. O cineclubista, sim.
Acredito que muitas das pessoas que frequentam com assiduidade um cineclube são a ele atraídas por razão de sua curadoria. Pelo tesão de não ter que escolher e pela confiança na qualidade da programação. Claro, existem cineclubes dedicados a nichos bastante específicos da cinefilia, onde a surpresa nem sempre é a característica mais procurada pela curadoria, mas, mesmo assim, a prática de se confiar na seleção de outra pessoa faz com que estejamos em uma posição de total receptividade e de entrega à experiência.
Para todos
Além disso, é importante também evidenciar que o cineclube preenche um lugar bastante importante no circuito cinematográfico por ser, em geral, um espaço livre das lógicas do mercado e de sua demanda constante por novas produções. O cineclube é o lugar onde filmes são ressuscitados, investigados novamente, muitas vezes anos depois de sua produção. Filmes criados em tempos e lugares distantes assumem nova importância quando discutidos à luz da experiência contemporânea, ou quando considerados em conjunto com outras obras em um arranjo inusitado.
Filmes celebrados, que carregam um legado importante de crítica e apreciação, muitas vezes revelam fraquezas ou vieses hoje inaceitáveis e, de outro lado, filmes um dia subestimados se mostram urgentemente atuais e relevantes, surpreendendo-nos. Muitas vezes o cineclube se torna também o espaço para a circulação das produções independentes, das obras que saem brilhando da temporada de festivais e não encontram lugar no circuito comercial, ficando inacessíveis ao público. É, por isso, um elo importantíssimo na construção de uma bagagem referencial contemporânea não baseada unicamente no consumo compulsivo de produção atual comercial, nem na aceitação passiva dos cânones históricos da crítica cinematográfica.
Longa vida aos cineclubes! Pois, em uma sociedade que consome compulsivamente material audiovisual para se informar, para comunicar e para tomar decisões importantes – como, por exemplo, votar – é fundamental que a relação com essa linguagem não seja exclusivamente solitária, limitada às televisões, computadores ou salas comerciais. Que surjam sempre mais espaços onde treinar o nosso olhar e nossa capacidade de interpretação das imagens! Lugares onde sejam possíveis o encontro e a convivência positiva entre pensamentos diferentes, que contribuem para o fortalecimento de uma sociedade saudável, viva e democrática.