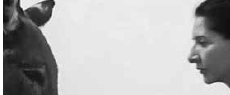Postado em
Círculo de Fogo
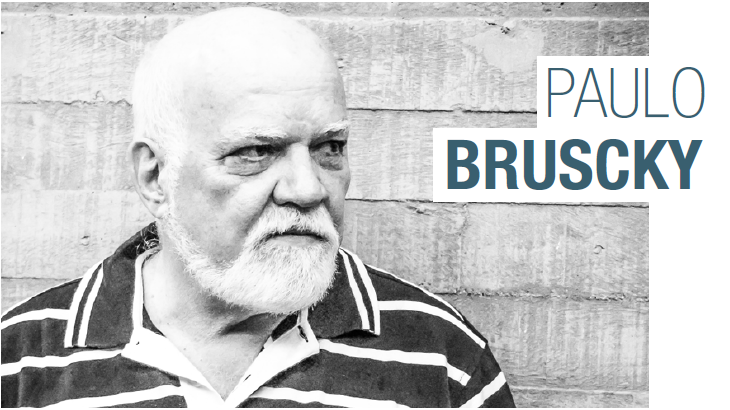
O criador recifense fala sobre seu envolvimento com a arte postal e sua trajetória multimídia
Com quatro décadas de trajetória artística, Paulo Bruscky é um artista multimídia em sua melhor definição. Após iniciar-se no desenho, na pintura e na gravura, nos anos 1970 tornou-se um dos pioneiros no Brasil a participar do movimento internacional de arte postal, em que artistas de todo o mundo trocavam criações e pesquisas pelo correio. Desde então, Paulo explorou as possibilidades da arte-xerox, produziu filmes de artistas e videoarte, fez videoinstalações, editou livros de artistas e realizou performances, entre outros trabalhos.
Levando a carreira de artista paralelamente à de funcionário público até se aposentar, Bruscky diz nunca ter feito arte em função do mercado: “Fiz arte para não endoidecer. Nunca tive essa ansiedade”. Nesta entrevista, ele comenta a sua relação com a Arte Correio e com os diferentes suportes artísticos que o marcaram.
Você está com 65 anos e faz um tipo de arte que mistura arte e vida, ou vida e arte, sem muita distinção entre as duas coisas. Esse conceito do artista de viver pela arte continua a existir hoje?
Existe uma diferença entre viver de e da arte. Eu sempre tive um emprego paralelo para fazer o que eu quero, quando quero e como quero. Nunca separei vida e arte, e meu ateliê mostra muito isso. Nunca tive uma preocupação com a utilidade da obra. Sempre trabalhei por uma necessidade interior e desde cedo me deseduquei dessa questão da estética, da função e de tudo relativo a essa canonização da obra de arte, entre outras coisas.
O fato de você fazer a sua obra alheio ao mercado lhe deu uma liberdade que não existiria se você tivesse logo entrado em uma galeria, por exemplo?
Pela minha formação, eu nunca me aprisionei a nada dentro do “sistema da arte”, digamos assim. Recife é uma cidade que veio a ter crítico de arte recentemente, e isso também favoreceu muito o meu trabalho, porque você começa a teorizar e se aprofundar nas próprias coisas. Estou sempre revisando tudo que fiz. Sempre tive essa liberdade e tenho até hoje, embora trabalhe atualmente com uma galeria. Só agora é que meu trabalho está sendo projetado no exterior, mas eu nunca tive essa preocupação. Faço arte para não endoidecer.
Há artistas que demonstram uma preocupação com o mercado, a galeria e o gosto dos compradores. Como você vê essa questão do mercado e a arte hoje?
Vejo isso muito como um “suicídio” em muitos artistas jovens. A primeira obrigação de um artista é ler muito, pesquisar muito e errar muito para, assim, constituir a própria obra ou fazer outras opções. Acho que grande parte dos artistas hoje vive em função da crítica de mercado. Isso é muito ruim porque a falta de pesquisa faz com que ele não se aprofunde em determinadas coisas e percorra caminhos já trilhados, como a gente vê muito. E os artistas hoje estão mais preocupados com o mercado do que com a obra em si. É uma espécie de mitômano, que acredita nas próprias mentiras. Isso é muito perigoso para um artista jovem. Mas acho que, tirando essa parte que se preocupa com o mercado exclusivo, existe uma produção jovem genial, não só com projeção nacional, como internacional, e que cuidam também da questão social. Só ser artista, para mim, é uma atitude política.
Você passou a vida inteira e criou a sua obra no Recife, começando com a arte postal ainda nos anos 1960. Como era fazer esse tipo de arte completamente inovadora?
No Recife, sempre vivi muito ilhado e, pela arte correio, sabia o que o mundo pensava e o mundo sabia o que eu pensava. A gente trabalhava em rede com consciência de rede. A gente já era uma internet antes da internet. A gente foi incorporando toda a tecnologia que ia surgindo: telegrama, telex e fax, que para mim é uma coisa genial, porque era transmissão em tempo real.
Como funcionava essa rede?
Comecei quando recebi uma corrente da qual participava Robert Rehfeldt, da Alemanha Oriental. Você recebia um trabalho, respondia de alguma forma. Era uma rede muito grande, você não tinha contato de carta com todo mundo. Existia uma identificação de fazer e de pensar com quem você trocava carta. E foi um movimento que não teve nacionalidade e, para mim, foi o único movimento depois da pop arte que estoura o subterrâneo no início dos anos 1960. Além da troca de correspondência, existia uma corrente em que você mandava o trabalho para o primeiro da lista, colocava o seu nome embaixo, riscava o primeiro, tirava dez cópias e enviava. A gente tinha ligação com os comitês de anistia, que naquela época funcionavam muito bem – aliás, foi o que ajudou a me soltar quando fui preso em 1976 pelo SNI [Serviço Nacional de Informações], durante a abertura de uma exposição minha em que os trabalhos foram considerados subversivos.
Como aconteceu a sua prisão?
Na abertura da exposição eles não me levaram porque tinha imprensa, mas no dia seguinte me sequestraram na minha casa. Houve uma perseguição muito grande em cima dos artistas que trabalhavam com arte correio, porque você passava as informações do seu país para o mundo todo. Era plena ditadura, e as informações voavam livres por meio da arte correio. Além de uma forma de você mostrar o seu trabalho, aquela era uma forma de denúncia, e por isso houve uma repressão muito grande à arte na América Latina. E essa história, hoje, está na mão dos artistas. Os museus, as instituições e a crítica que passaram à margem estão hoje atrás dessa produção, comprando tudo o que existe. Já recusei propostas milionárias, porque não vendo a minha vida. A minha vida toda está ali, tudo que eu discuti de conceito, de política, está tudo nessas correspondências.
Para você, esse material, na verdade, traz uma narrativa subterrânea?
Exatamente. O subterrâneo estoura no mundo todo num momento único. Não surge em um lugar só, pois foi um movimento sem nacionalidade e que passou à margem da crítica, porque não tinha um valor comercial. Não existia uma temática, não existia censura entre os participantes. Era uma coisa bastante livre, da qual participava gente de literatura, de artes visuais... uma diversidade extraordinária. O correio era o único meio incontrolável de comunicação. Claro, depois que fui preso faziam uma revista de tudo o que eu recebia, mas para você controlar isso era preciso que muita gente trabalhasse nessa censura, porque na época ela era feita de forma artesanal.
Você trabalha muito com a ideia da reprodução, e não com a ideia do objeto único. Como você vê esta questão na cópia?
Na arte correio, materializou-se o que Walter Benjamin trata em A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Foi num momento só, eclodiu em um momento certo, no mesmo da geração mimeógrafo, da poesia marginal. Estava tudo junto.
Você é um desenhista que abandona o desenho para fazer arte postal. Depois, durante certo período, você acaba trabalhando com as performances e se utiliza também de audiovisual. De novo, são outros suportes. Como você vê essa ampliação do caminho da arte?
É uma consequência. É como um sapateiro, que vai dominando a técnica e vai partindo para outras coisas. A minha formação é de desenhista. Eu com 21 anos entrei no salão nacional, ganhei prêmios muito jovem e fui dominando o desenho e buscando outras coisas, porque se não você para ali e estaciona. O mercado de arte fez muitos artistas estacionarem por causa disso. E existe essa questão da forma também. Você não pode deformar sem saber formar. Você só deforma o que você sabe formar. Para você fazer uma performance você precisa entender de cor, da questão do espaço. Então acho que, para tudo o que faz, você tem que pensar um pouco. Trabalho com várias mídias, e procuro separar muito bem essas nuances: o que é um livro de arte, um livro de artista, um videoarte...
No caso das performances e do happening, quais são as dissonâncias?
O happening era na rua. Você dava o tiro inicial, mas não sabia a trajetória da bala. Você sabia o início, mas não o final porque ele exige a participação de quem está vendo. A performance aprisiona isso, passa a ser individual. Por isso, o mais difícil em uma performance é saber a hora de encerrar.
A instalação foi muito praticada por sua geração. Você acha que hoje a instalação se esgotou ou há um caminho para isso?
Eu mesmo não repito instalação, assim como não gosto de repetir performance. Faço em função do espaço e por isso ela está sempre renovada. Eu as deixo todas encaixotadas. Quando tiver uma quantidade suficiente vou fazer uma instalação com todas em círculo e vou queimá-las.
Olhando em volta, você encontra coisas interessantes entre quem se inspirou no seu caminho em relação a essa ampliação dos suportes?
Em todo movimento, há experiências que não são muito aprofundadas. Tenho visto pinturas geniais, gravuras, desenhos, mas ultrapassei esse estágio pela minha necessidade de desenvolver outras coisas. Quando você tem uma ideia como artista, antes, é preciso pensar qual seria o suporte ideal. Hoje os artistas têm muita pressa, e essa pressa em executar acaba com a ideia. Tenho um caderno onde eu vou colocando as minhas ideias, e algumas estão dormindo há décadas. Há uma
ansiedade também nesse aspecto da materialização da ideia. Às vezes, estou pensando em um filme e vem uma ideia para um livro de artista. Trabalho com “n” mídias ao mesmo tempo, mas no fim há uma relação entre elas. Uma disfunção.
Você sente que hoje esse tempo digital da pronta resposta influi de maneira negativa na produção artística?
Sim, porque não existe mais uma discussão. Existe uma pressa para a execução da obra. Existem artistas que vivem em função de eventos, trabalhando para salão, para a Bienal. Essa pressa e essa ansiedade de produzir a obra têm assassinado muitos artistas.
Você estava dizendo que era uma pessoa muito solitária em Recife e que não fazia arte para ser exposta ou vendida...
Sim, por isso eu sempre tive um emprego paralelo e me aposentei como funcionário público. Meus amigos sempre foram mais da área de literatura e de música e a maioria dos meus colegas me diziam que o que eu fazia não era arte. Eram muito poucos os amigos com quem eu conseguia dialogar. Havia essa falta de diálogo e, eu sabia, a minha obra sempre foi muito difícil. Nunca me preocupei em ter uma aceitação, nunca estive interessado em que dissequem a minha obra. Acho que quem vai ver não precisa ter obrigação nenhuma de saber de arte. Prefiro uma opinião singela a uma opinião crítica. Desde cedo, quando recebo uma crítica, se é construtiva, eu analiso. Se é destrutiva, eu ignoro. Não me atinge.
A questão de não vender e não viver da arte não atrapalhava a criação?
Pelo contrário. Sempre pesquisei muito e não tinha ansiedade de nada. Nunca fiz arte para ser reconhecido, para vender. Fiz arte para não endoidecer. Nunca tive essa ansiedade e sempre gostei de ser solitário.
“No Recife, sempre vivi muito ilhado e, pela arte correio,
sabia o que o mundo pensava, e o mundo sabia o que eu pensava.
A gente já era uma internet antes da internet”
“Era plena ditadura, e as informações voavam livres por meio
da arte correio. Além de uma forma de você mostrar
o seu trabalho, aquela era uma forma de denúncia, e por isso
houve uma repressão muito grande à arte na América Latina”
“Os artistas hoje estão mais preocupados com o mercado
do que com a obra em si. É uma espécie de mitômano,
que acredita nas suas próprias mentiras”
“Quando tiver uma quantidade
suficiente [instalações] vou fazer
uma instalação com todas
em círculo e vou queimá-las”